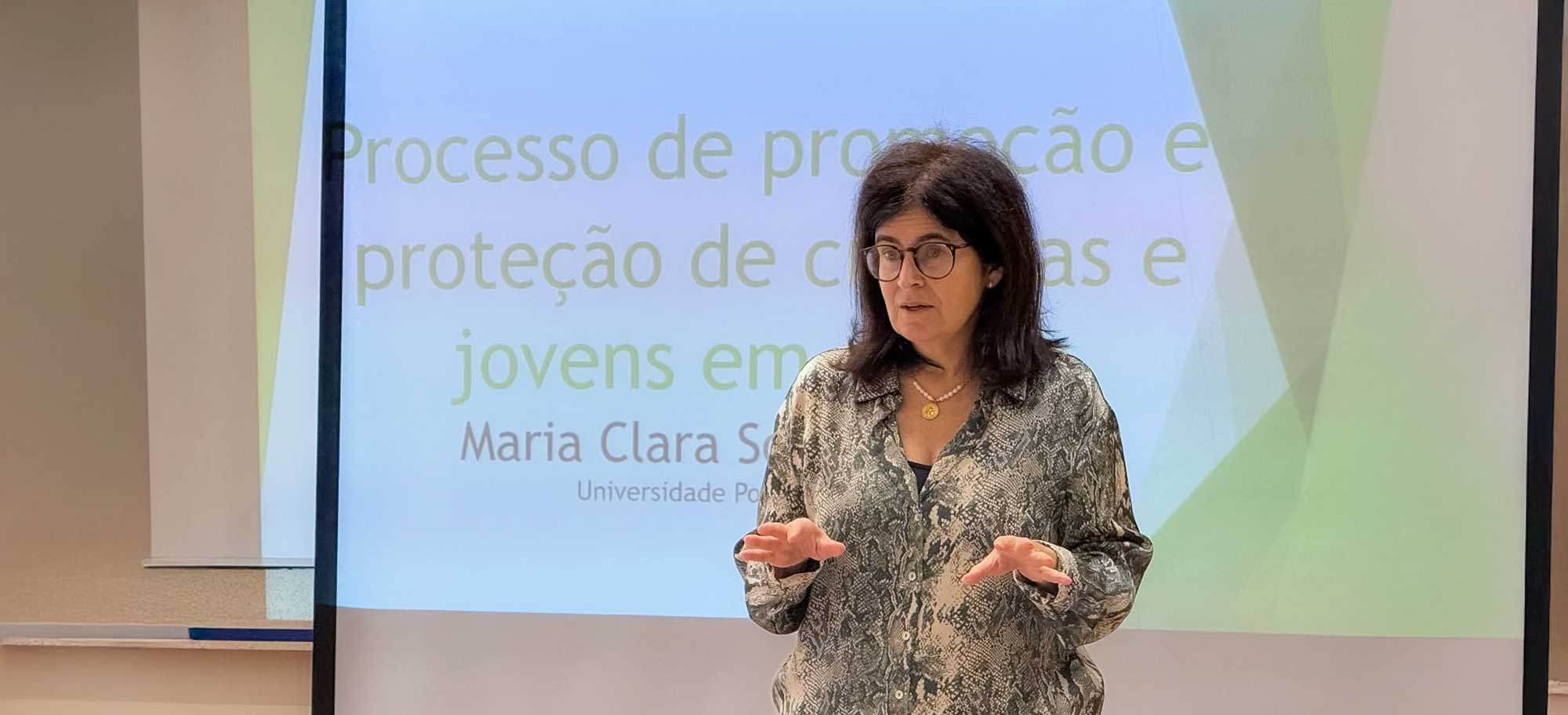Maria Clara Sottomayor
Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça
O sistema de proteção de crianças e jovens foi profundamente revolucionado em 1999, com a separação entre o modelo de proteção e o modelo educativo. O primeiro refere-se às crianças em situação de perigo na sua segurança, integridade, educação e desenvolvimento, cujo direitos subjetivos e processuais estão consagrados na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, doravante, LPCJP). O segundo, às crianças que, entre os 12 e os 16 anos, praticam factos ilícitos classificados como crime pela lei penal, cujos direitos de defesa estão consagrados na Lei Tutelar Educativa (Lei n.º 166/99, de 14 de setembro).
Abordarei apenas o modelo de proteção, sem deixar de referir que estes dois modelos não são tratados pela lei como compartimentos estanques, mas em articulação. Jovens que pratiquem um ilícito penal vivem, em regra, numa situação de perigo à qual se podem aplicar também as medidas de proteção previstas na lei de promoção e proteção, e não apenas as medidas tutelares educativas destinadas a educar os jovens para o direito.
A Lei n.º 147/99, de 01 de setembro (última alteração: Lei n.º 23/2023, de 25/05) tem por objeto a promoção dos direitos e a proteção das crianças e dos jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral e aplica-se às crianças e jovens em perigo que residam ou se encontrem em território nacional, independentemente de qual seja a sua nacionalidade ou de terem ou não autorização para residir em Portugal. Os tribunais portugueses são internacionalmente competentes para as ações de promoção e proteção de menores estrangeiros, se aqueles se encontrarem à data da instauração dos processos em Portugal e tendo os factos que conduziram à intervenção das autoridades ocorrido igualmente no nosso país.
Crianças ou jovens são, nos termos da lei de proteção (artigo 5.º, al. a), da LPCJP), as pessoas com menos de 18 anos ou com menos de 21 anos que solicitem a continuação da intervenção iniciada antes de atingir os 18 anos, e ainda as pessoas até aos 25 anos sempre que existam, e apenas enquanto durem, processos educativos ou de formação profissional.
O conceito de perigo deve ser entendido como o risco atual ou iminente para a segurança, saúde, formação moral, educação e desenvolvimento do menor. As crianças que se encontram em situação de perigo são aquelas que, segundo a enumeração meramente exemplificativa da lei (artigo 3.º da LPCJP), vivem abandonadas ou entregues a si próprias, sofrem maus tratos físicos ou psíquicos ou são vítimas de abusos sexuais, não recebem os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal, são obrigadas a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento, estão sujeitas a comportamentos que afetam gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional e assumem comportamentos ou se entregam a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação. Para além destas situações, a lei veio ainda a alargar o conceito de criança em perigo a todas aquelas que estão aos cuidados de terceiros, durante período de tempo em que se observou o estabelecimento com estes de forte relação de vinculação e em simultâneo com o não exercício pelos pais das suas funções parentais. Esta alteração legislativa, introduzida em 2015 (Lei n.º 142/2015, de 08/09), na sequência da intervenção do Instituto de Apoio à Criança, visou conferir estabilidade jurídica às famílias de afeto que cuidam de crianças com as quais não têm vínculos biológicos de filiação. Por último, em 2018 (Lei n.º 26/2018, de 05/07), nova alteração legislativa alargou o conceito de criança em perigo a toda aquela que tenha nacionalidade estrangeira e esteja acolhida em instituição, sem autorização de residência em território nacional.
O modelo de proteção de crianças e jovens, em vigor desde janeiro de 2001, apela à participação ativa da comunidade, numa relação de parceria com o Estado, concretizada nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).
Neste modelo, a intervenção judicial é subsidiária e só tem lugar quando não esteja instalada a comissão de proteção de crianças e jovens com competência no município ou freguesia da área de residência do menor, não seja prestado ou seja retirado o consentimento dos pais ou representantes legais necessário para a intervenção da comissão, ou quando o jovem (com idade igual ou superior a 12 anos) se oponha à intervenção da comissão. São ainda de destacar, como casos de intervenção judicial imediata, aqueles em que não se mostra adequada a intervenção da comissão de proteção porque se verifica uma situação de perigo grave e a criança mantém especial relação com quem a provocou e aqueles em que o MP tem conhecimento de que houve incumprimento reiterado de medida de proteção por quem deva prestar consentimento. Carecem de intervenção policial e judicial urgente, os casos de perigo iminente ou atual para a vida ou grave comprometimento da integridade física ou psíquica da criança ou jovem. Nestes casos, as CPCJ podem solicitar a intervenção imediata dos tribunais e das entidades policiais, que podem retirar a criança ou o jovem do perigo em que se encontra e assegurar a sua proteção de emergência em casa de acolhimento.
Importante inovação nesta matéria foi introduzida em 2015, tendo o legislador estipulado expressamente que seguem imediatamente para tribunal os casos em que a pessoa que deva prestar consentimento para a intervenção das CPCJ haja sido indiciada pela prática de crime contra a liberdade ou a autodeterminação sexual que vitime a criança ou jovem carecidos de proteção, ou quando, contra aquela tenha sido deduzida queixa pela prática de qualquer dos referidos tipos de crime. Integram-se nestas situações os casos em que as crianças e jovens são vítimas de crimes públicos de natureza sexual praticados por um dos pais ou membro da família. A violência doméstica não está aqui referida, mas devia estar sujeita a regime semelhante. Neste contexto, para além da retirada imediata da criança ou do jovem, o Ministério Público prossegue com a ação penal, independentemente de queixa da vítima ou dos seus representantes legais. O processo de promoção e proteção, nos casos em que os autores do crime são os pais ou um deles, tem natureza judicial e a iniciativa processual cabe ao MP, junto do tribunal de família, após comunicação da CPCJ. Os crimes violentos contra crianças ofendem gravemente os direitos fundamentais destas à vida, à liberdade, à integridade e desenvolvimento, pelo que qualquer intervenção baseada no consentimento dos agressores e num acordo de proteção celebrado entre a família e as CPCJ deve ser rejeitada.
Um aspeto em relação ao qual, as comissões de proteção devem estar atentas, é a situação das famílias com história de violência doméstica. Os estudos demonstram que se verifica uma relação entre violência contra as mulheres e violência contra as crianças (Ana Isabel Sani/Cristiana Carvalho, Violência Doméstica e Crianças em Risco: Estudo Empírico com Autos da Polícia Portuguesa, Psicologia: Teoria e Pesquisa, 34, 1-8. https://dx.doi.org/10.1590/0102.3772e344172018). A criança que assiste ou tem conhecimento da violência contra a mãe, mesmo que não seja diretamente atingida em termos físicos, é uma criança em perigo para o efeito da LPCJP, porque está exposta a maus tratos psíquicos e a abuso de autoridade. No processo penal deve ter o estatuto de vítima, já reconhecido pela Lei n.º 57/2021, de 16 de agosto. O MP, junto do tribunal de família, deve intentar ação de regulação das responsabilidades parentais num prazo de 48 horas para definir a residência e os alimentos devidos aos menores e aplicar uma medida de proteção. As crianças expostas à violência doméstica sofrem danos psicológicos e problemas comportamentais, psicológicos, físicos e sociais, que os tribunais de família devem ponderar nas suas decisões. Padecem também de depressão, insucesso escolar, tendência para consumo de drogas ou álcool, baixa empatia, déficit de atenção, comportamentos obsessivo-compulsivos, pesadelos, ansiedade, perturbações de sono, baixa auto-estima, sentimentos de culpa, enurese noturna. Neste quadro, que nos é fornecido por estudos (v. entre outros, Joy D Osofsky, «Children Who Witness Domestic Violence: The Invisible Victims», December 1995, Social policy report / Society for Research in Child Development 9 (3), DOI:10.1002/j.2379-3988.1995.tb00035), tem de se concluir ser um mito que um progenitor violento com o outro cônjuge possa ser competente para cuidar dos filhos.
A questão da guarda e das visitas não pode ser separada do perigo de continuação da violência doméstica contra as mulheres e os seus filhos e filhas. As crianças devem ser protegidas através da suspensão das visitas ao progenitor agressor e das medidas de coação, aplicáveis no processo crime, de restrição das responsabilidades parentais do agressor e de obrigação de abandono da casa de morada de família.
O direito da família e das crianças deve ser estudado numa perspetiva interdisciplinar com outros ramos do direito – o direito penal e processual penal – e com outras ciências sociais. Só assim será cumprido nas instituições judiciárias e não judiciárias, com competência em matéria de infância e juventude, o princípio fundamental da proteção do interesse das crianças e dos jovens.
Nota: Este artigo foi escrito no âmbito da participação na Formação Aplicada “Os Direitos das Crianças e as Responsabilidades Parentais”.